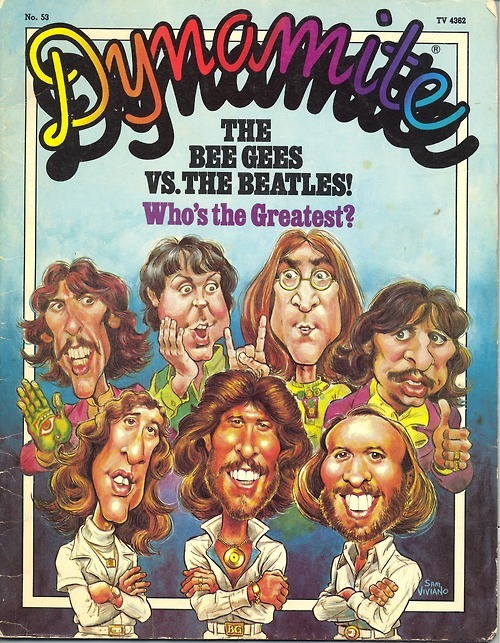Quinta-feira passada, na Cinemateca, Victor Erice preparava-se para fazer a primeira de muitas apresentações dos seus filmes pela mão, talvez literalmente, da directora. Esta, antes de anunciar o realizador com justificado orgulho, informou as pessoas de uma enorme surpresa preparada para sábado. O raciocínio que reproduzo de seguida, só o contei, felizmente, a um par de pessoas, mas pareceu-me o único plausível: sendo que sábado seria apresentado em ante-estreia Like Someone in Love, o filme "japonês" de Kiarostami (estas aspas não fazem aqui falta nenhuma por muitas razões), e visto que estava informado da amizade conhecida entre este e Erice, com exposições e outras experiências partilhadas, não vi como podia a surpresa ser outra que não a presença do iraniano na festa.
Cheguei cedinho no sábado, portanto. Bem a tempo de ver a directora da Cinemateca com um, digamos, casaco de inspiração japonesa, e reflectir se, posto isto, preferia que Kiarostami estivesse ou não presente. Não estava, mas estou convencido que a minha linha de pensamento fazia muito mais sentido do que a realidade, pelos dados que me foram fornecidos.
Ainda que ninguém tenha pensado como eu, a Cinemateca estava cheia e a ignorante vox populi habitual na linha d"uma sala que exibe sessões para três pessoas de gola alta e óculos de massa", não tardou a passar para um curioso "é uma vergonha que as bilheteiras não funcionem eficazmente". Sinceramente, preocupa-me um pouco mais a falta de eficiência com que é servida uma imperial (um euro e dez, no entanto, o que são óptimas notícias) ou com que se gere a logística dos croquetes ("temos, mas é preciso ir fritar"). Sendo no entanto gente simpática e solícita, admitimos que os nervos vêm só de uma vontade genuína em servir bem, e que a eficiência será em breve mais constante. É importante que a população refreie um pouco a eventual irritação que a dificuldade em pagar a conta a segundos do início de um filme possa provocar, até porque a culpa desta situação é mais da população do que do corpo de trabalhadores do bar.
Perto das sete, sempre com impecável sentido de tempo (bilhete comprado a tempo, imperial paga a tempo), partilhei a satisfação da multidão que se acumulava à porta das salas antes de entrar para a ante-estreia de Like Someone in Love, com a inexplicável ausência do realizador, mas apresentado pelo seu bom amigo (eu disse logo) Victor Erice, que, momentos antes de entrar tinha sido conduzido pelo braço a uma terceira pessoa com a promessa de que lhe seria apresentado um poeta.
Vitor Erice é um homem de 73 anos. Antes de continuarmos, façam por favor uma pesquisa por Victor Erice no Google Images para tentar perceber que tipo de contrapartidas se deve oferecer ao diabo para conseguir aquele nível de implantação capilar aos 73 anos. É também um homem extraordinário, humilde na apresentação da sua obra mas seguro da sua importância, directo, simples, generoso, claro em todas as abordagens do que está a explicar (está sempre a explicar alguma coisa da forma menos ofensiva possível).
Assim que se acenderam as luzes após Like Someone in Love, a unanimidade que eu decidi que iria existir em torno do filme foi logo quebrada por alguns comentários de anónimos que se cruzavam comigo, e que pareciam ora estranhamente ofensivos ("isto era para rir, certo?"), ora um alerta quanto ao meu sentido crítico quando estão envolvidas referências mais ou menos óbvias a Ozu ("fiquei um bocadinho desiludida"), ora a prova de que os memes da internet não são inventados do nada ("gosto mais dos primeiros trabalhos dele"). Talvez porque o público fosse fortemente constituído por casais de namorados, nenhum dos homens com quem me cruzei mencionou os lábios da protagonista, embora alguns olhares vazios e distantes em silêncio fossem de certa forma comprometedores. Eu próprio explicarei mais tarde porque acho que está tudo bem com estes lábios e até mesmo com o filme de Kiarostami.
Intervalo das duas sessões, ainda mais gente no hall, acumulavam-se os poetas (foi-me mesmo apontado um), nenhum tempo para uma imperial, um justificado ambiente de festa partilhado por todos os presentes em que se notava bem a satisfação revanchista dos olhares cúmplices que pareciam dizer para a massa filisteia lá fora "com que então éramos só três, hã?". Soube mais tarde, com pena, que Pedro Costa começava a apresentação de I Walked with a Zombie de Tourneur na sala ao lado com "eu queria que A Casa de Lava fosse um remake deste filme", mas não escolhi mal. As duas curtas de Erice (na verdade três: a surpresa - e boa - foi a exibição de Vidros Partidos, filme que fez para Guimarães 2012) são dois filmes reconfortantes e (sei que todos o são, mas estes de forma especial) muito pessoais, donde foram escolhidos a dedo para uma despedida.
No final da exibição, a aguardada conversa com Erice e Costa contou só com Victor Erice. Não é demasiado sublinhar a simpatia deste homem que nos fez esquecer de perguntar se Pedro Costa estaria aborrecido ou amuado, e que lhe permitiu não mandar à merda o jovem "estudante de cinema" que lhe disse estar muito apreensivo por ter de vir a fazer cinema num mundo como este, onde a poesia já morreu. É de facto azar um gajo nascer nestes tempos e não nos de Murnau, Dreyer, Bresson ou Erice, em que a poesia que abundava pelo mundo fazia praticamente todo o trabalho por eles.
Existir uma Cinemateca tão boa como a Portuguesa prova sempre ser, é um grande privilégio e que permite sábados tão extraordinários como este. Num só dia estiveram dois dos maiores realizadores vivos a apresentar filmes em salas diferentes (no início da semana esteve também Denis Côté antes dos seus) e as salas esgotaram com facilidade. É um disparate achar que é necessário discutir a utilidade da Cinemateca e ter de voltar sempre a ler todos os anos dissertações bem ou mal intencionadas sobre o Bem Público. Há discussões bem mais interessantes (e úteis), até mesmo aquelas em torno da morte da poesia.
Sete horas depois de ter chegado à Cinemateca, o destino entregou-me o equilíbrio intelectual em forma de jantar num muito competente restaurante de taxistas na Paiva Couceiro, onde nem sempre estive certo de não levar nos cornos por causa de uma discussão, na qual nunca estive envolvido, sobre a distância exacta em linha recta entre Lisboa e Madrid.